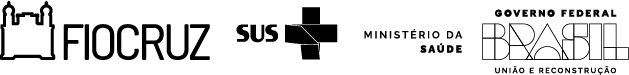Saúde das mulheres: movimentos sociais apontam avanços e retrocessos
09/07/2014
Por Clarisse Castro e Marina Maria/ Portal Fiocruz
O Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que, dos aproximadamente 190 milhões de brasileiros, mais da metade são mulheres (cerca de 97 milhões ao todo). Em que medida as especificidades dessa expressiva parcela da população do país são levadas em consideração quando tratamos das ações e políticas públicas na área da saúde?

No Rio de Janeiro, grupo faz passeata na Lapa, em defesa dos direitos das mulheres e contra a violência (Foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil)
Analisar esta questão ganha ainda mais relevância por conta do Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher, celebrado em 28 de maio e instituído há 30 anos, durante o 4º Encontro Internacional da Mulher e Saúde, na Holanda. Na ocasião, o Tribunal Internacional de Denúncia e Violação dos Direitos Reprodutivos revelou que a mortalidade materna era um grave problema de saúde pública em quase todo o mundo. Por isso, a data foi definida com o objetivo de chamar a atenção globalmente para entraves à saúde feminina e defender os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.
No contexto brasileiro, de um lado, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo ações por meio da Área Técnica de Saúde da Mulher do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, com base em diretrizes e prioridades estabelecidas pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, implementada desde 2004. De outro, uma série de retrocessos e reivindicações são destacadas pelos movimentos sociais, sobretudo feministas, consolidando uma agenda de pautas relacionadas à saúde das mulheres em sua diversidade.
Conheça as ações governamentais para a saúde das mulheres
Direito de decidir sobre o próprio corpo, sem deixar-se impor por padrões culturais opressores, de saúde ou de beleza. Direito de realizar um aborto de forma segura, sem risco de morte. Direito de realizar o parto com delicadeza, na forma escolhida pela grávida, e com acompanhamento de confiança. Estas são algumas das demandas dos movimentos sociais no que se refere à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.
De acordo com análise divulgada em junho pelo Sexuality Policy Watch (SPW), apesar das ações governamentais em implementação, houve um retrocesso no cenário da política sexual brasileira. Uma das razões para esta afirmação foi a recente revogação da Portaria nº 415, do Ministério da Saúde, que incluía o registro específico do aborto previsto em lei e em decisão do Supremo Tribunal Federal (gravidez por estupro, com risco de morte à gestante e feto anencéfalo) na tabela de serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para o SPW, o governo federal cedeu a uma “pressão de parlamentares dogmáticos e conservadores que criticaram o texto, em mais um episódio no qual o Executivo cede à chantagem desses setores em temas ligados aos direitos sexuais e reprodutivos”.
Nos hospitais, procedimentos ineficazes ainda são rotina
Segundo a ONG Católicas pelo Direito de Decidir, o aborto ilegal é, atualmente, a quarta principal razão para o alto índice de mortalidade materna no Brasil. “Estima-se que sejam realizados anualmente cerca de 1,5 milhão de abortos ilegais no país, dos quais perto de 400 mil terminam em internação e um número grande, não estimado, em morte. As regiões Norte e Nordeste são as que apresentam os maiores índices”, afirma o editorial sobre o Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher.
Outro tema apontado como grande desafio é a violência obstétrica pela qual passam, rotineiramente, mulheres de todo o Brasil na hora do parto. Para Clarissa Carvalho, pesquisadora do Movimento pela Humanização do Parto e do Nascimento, esta é a maior forma de discriminar uma mulher nos serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados. “De forma bem ampla, podemos falar em procedimentos que são rotina nos hospitais e que são ou ineficazes ou pouco eficazes, mas que causam dor, desconforto ou constrangimento. Uso indiscriminado da versão sintética da ocitocina (hormônio que estimula as contrações uterinas), proibição de comer e beber durante o trabalho de parto, realização de episiotomia (corte cirúrgico da região do períneo para ampliar o canal de parto) de rotina, exames de toques constantes, são alguns exemplos de práticas abusivas e sem respaldo científico que costumam ser feitas em parturientes sem sequer pedir consentimento.”
Há também distinções econômicas e culturais que pesam consideravelmente sobre o protagonismo feminino no cuidado com a própria saúde, sobretudo na hora do parto. Se este protagonismo significar, por exemplo, a opção por um parto domiciliar, não apoiado pelo Ministério da Saúde, Clarissa analisa que ter mais ou menos recursos e estar em regiões mais pobres ou mais ricas do país fazem toda a diferença. “As mulheres de classes favorecidas podem optar mais facilmente por parto domiciliar, uma vez que podem pagar por profissionais que nem o SUS e nem planos privados cobrem”. Clarissa Carvalho explica, ainda, que há hoje dois tipos de parto domiciliar no Brasil: o de mulheres de classe média e classe alta que buscaram informações, decidiram por isso e arcaram financeiramente com essa decisão, e o de mulheres do interior do Nordeste e Norte que não têm outra opção por ausência de serviços públicos de saúde. “Essa mulher raramente tem acesso a pré-natal e acaba parindo com alguma parteira da região. Em ambos os casos, temos partos domiciliares, mas por motivações (e condições) absolutamente diferentes.”
A diversidade das mulheres na defesa do direito à saúde
Além das questões relativas ao aborto e à maternidade, os movimentos sociais ouvidos defendem que as políticas devem passar pela defesa da integralidade na percepção dos condicionantes de saúde de mulheres de distintas características culturais, sociais, religiosas e econômicas. E de distintos desejos também, como por exemplo o de ser mãe e o de não ser. “Vamos cuidar do útero, mas vamos além disso”, exclama Jurema Werneck, ex-vice-presidente do Conselho Nacional de Saúde e coordenadora da ONG Criola, criada especialmente para cuidar das demandas das mulheres negras, inclusive na área de saúde.
Nesta perspectiva da integralidade, de acordo com as entrevistadas, o cuidado com a saúde das mulheres ainda esbarra no básico: o acesso com qualidade às ações e serviços. Sobretudo se esta mulher pertence a alguma parcela da população historicamente oprimida em suas culturas, como as mulheres negras e indígenas, e que são também mais dependentes das políticas públicas de saúde. Para Jurema Werneck, há diferença no atendimento dessas mulheres, mas não porque elas sejam de raças ou etnias diferentes, e sim pela presença arraigada do racismo e os impactos que isso gera. “Claro que há as doenças específicas, há a anemia falciforme, por exemplo, que acomete mais pessoas negras do que brancas. Mas os quadros que nós conhecemos, de maior mortalidade entre as mulheres negras, só se explica pelo racismo, que gera um atendimento diferenciado. Quando se consegue o acesso, ele não se dá com a mesma qualidade daquele conferido às mulheres brancas. E isso afeta a qualidade de vida dessas mulheres. Interfere, inclusive, na capacidade delas de autocuidado e não adoecimento.”
Na região Norte do país, as mulheres indígenas também sofrem várias dificuldades de acesso às ações e serviços de saúde. “Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) trabalham somente com atenção básica, e resta a necessidade de exames diagnósticos. As Casas de Apoio à Saúde do Índio (Casais) são superlotadas. Além disso, a marcação de consultas é demorada e o controle social dos usuários, deficiente”, declara a coordenadora da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira (UMIAB), Rosimere Arapaco. E se a logística é complicada, há ainda um fator cultural que impõe uma dificuldade ainda maior: a barreira da língua. “Além do profissional atender sem muita atenção, sem responder direito as perguntas que fazemos, há também a dificuldade de perguntar. As mulheres índias são muito tímidas. Muitas nem falam direito o português, apenas a língua materna. E como a maior parte dos profissionais de saúde não é indígena, é difícil a comunicação”, declara Iranilde Barbosa, índia da etnia Macuxi, da região de Raposa/Terra do Sol, e pesquisadora sobre violência em mulheres índias.
No Portal Fiocruz
Mais Notícias
- Conheça as ações governamentais para a saúde das mulheres
- Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz
- Nascer no Brasil: pesquisa revela número excessivo de cesarianas
- Pesquisa analisa o comportamento sexual da mulher brasileira frente à epidemia de aids
- Documentário mostra como foi a criação do Dicionário Feminino da Infâmia
- Câncer de mama: pesquisador esclarece dúvidas sobre diagnóstico e tratamento
Mais em outros sítios da Fiocruz
- Visite o site PenseSUS - A reflexão fortalece essa conquista
- No Canal Saúde: debate sobre 'violência contra a mulher'
- Entrevista com Maria Cecília Minayo: 'Violência contra a mulher é maior que a registrada no cotidiano'
- Artigo sobre humanização no parto: 'Evidências científicas e direitos das mulheres'
- Acesse a Biblioteca da Saúde da Mulher e da Criança
- Parto natural na telona