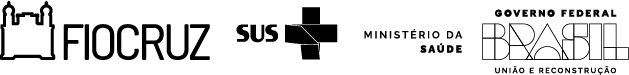Fórum de Estudantes promove ocupação da Escola Nacional de Saúde Pública
03/06/2016
Texto: Juliana Krapp (Portal Fiocruz)/ Fotos: Virginia Damas (Ensp)
A Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp), um dos prédios mais movimentados do campus Manguinhos, foi tomada na manhã desta quarta-feira (1/6) por cartazes e faixas com dizeres como “O SUS está em perigo”, “Saúde é democracia”, “Fiocruz contra o golpe” e “Nenhum direito a menos!”. No auditório, pesquisadores, estudantes e convidados debatiam a crise política e o papel dos sanitaristas na luta histórica pela democracia. Foi assim o primeiro dia do OcupaEnsp, movimento criado pelo Fórum de Estudantes da escola, em sintonia com outros “ocupes” que têm fincado pé em espaços públicos, país afora, em defesa de direitos diversos.
No caso do OcupaEnsp, a necessidade de debater a crise política e seus impactos na saúde e no SUS é força-motriz da mobilização. “O objetivo é romper com a ideia de normalidade no cotidiano da escola, promovendo debates e intervenções para se contrapor ao golpe que se instalou no país”, explica Ingrid d’Avilla, aluna do doutorado em Saúde Pública.
Leia a cobertura do evento também no Informe Ensp

Não à toa, o ponto alto da mobilização foi a chegada de Agentes Comunitários em Saúde (ACS), vindos de marcha pela Avenida Leopoldo Bulhões e pelo campus, no começo da tarde. Eles lutam pela extinção das portarias 958 e 959, do Ministério da Saúde, que retiram a obrigatoriedade da presença dos agentes nas equipes de Saúde da Família. Os ACS, porém, são elemento-chave na estratégia de saúde pública que preza pelo acolhimento, pela humanização e pela equidade no atendimento. Moradores das comunidades em que atuam, os agentes representam um importante vínculo entre a população e as instituições — e sua existência foi uma grande conquista para a saúde brasileira. “Essas portarias afetam não só nossas carreiras, mas o processo de educação em saúde. Não podemos deixar que o único elo que existe entre o sistema de saúde e a população seja extinto. Não podemos voltar ao modelo hospitalocêntrico”, defendeu o agente Jorge Antonio dos Santos Nadais.
‘Ainda debatemos questões do século 19’
Mais cedo, a psicanalista Cecília Boal, viúva do dramaturgo Augusto Boal, abrira o debate com suas memórias do “ar abafado” que dominou o cenário artístico durante a ditadura brasileira. Cecília, que também é atriz e foi colaboradora de Boal em vários projetos, participou de momentos históricos da cultura nacional, como a criação do Teatro de Arena, a montagem da Feira Paulista de Opinião e o Teatro do Oprimido. Acompanhou o marido no exílio, após sua prisão e tortura. É com base nessa experiência que defende: “É muito melhor viver numa democracia, por pior que ela pareça. A arte floresce e se desenvolve em governos democráticos. Em ditaduras, o ar é outro, quase irrespirável, e a arte mingua”.
O que tem ocorrido no Brasil e em outros países da América Latina remete ao conto A incrível e triste história da Cândida Erêndira e da sua avó desalmada, do colombiano Gabriel García Márquez, defende Cecília. Na trama, uma jovem põe fogo, por acidente, na casa de sua avó. Esta exige então que a neta lhe pague o prejuízo se prostituindo. “A história dessa moça é a história do continente, constantemente saqueado, explorado, estuprado. Os últimos episódios do Brasil e da América Latina, tão tristes e preocupantes, deixam isso ainda mais claro. E evidenciam outro ponto: estamos, hoje, discutindo questões do século 19. As pessoas não conhecem o que é cidadania”, lamenta.
Com seu olhar estrangeiro, Cecília narra o estranhamento que teve ao deparar com os enormes grupos de oprimidos do cotidiano brasileiro. “Desde que cheguei aqui, estou esperando o morro descer. Espero uma guerra que, uma hora, vai acontecer. Como as pessoas suportam tanta desigualdade, tanta exploração? Volta e meia me perguntam como os argentinos puderam ter sido tão corajosos ao enfrentar a ditadura. Pois eu rebato: acredito que o Brasil faz jus à ideia de ‘gigante adormecido’. Em algum momento, esse gigante vai despertar. Por isso estou adorando ver os ‘ocupes’ por aí. Esse tipo de mobilização precisa existir, porque o que está acontecendo é inadmissível, uma afronta à nossa dignidade. Houve um estupro. Todo mundo, no Brasil, está sendo estuprado.”
‘Vivemos uma democracia restrita’
A historiadora Rejane Hoeveler, da Universidade Federal Fluminense (UFF), também fez uma fala contundente, ao pôr em xeque a própria ideia de democracia. Para ela, “temos vivido em estado de exceção permanente, com aparência de democracia”. Isso porque a vontade popular estaria cada vez mais afastada das instâncias de poder: “Temos mecanismos cada vez mais sofisticados para alijar do poder decisório as representações populares”, diz. “Os golpes não acontecem mais com militares nas ruas. Eles se dão dentro disso que é, hoje, uma democracia restrita e blindada, que tem sido erigida ao longo dos últimos 40 anos.”
 Rejane também evocou o passado para lançar luz aos dilemas do Brasil de hoje. Ela citou a Comissão Trilateral, fórum de discussão internacional para políticas monetaristas que, no começo dos anos 70, alardeou o relatório The Crisis of Democracy (“A Crise da Democracia”), do cientista político Samuel Huntington, que, em linhas gerais, apontava a conquista de direitos e o movimento dos chamados “partidos irresponsáveis” (os de esquerda) como uma ameaça aos governos e à economia. "Vale lembrar que o relatório surgia logo após 1968, quando os estudantes foram às ruas. Logo após movimentos como os Panteras Negras, a explosão dos grupos LBGT, a efervescência de greves e ocupações. O Estado não sabia como agir diante disso, a não ser com truculência. O relatório surge como resposta à impossibilidade de garantir os moldes capitalistas na democracia do pós-guerra, com seu estado de bem-estar social. Havia [por parte do poder dominante] um saudosismo dos Estados Unidos dos anos 50, com seu silêncio."
Rejane também evocou o passado para lançar luz aos dilemas do Brasil de hoje. Ela citou a Comissão Trilateral, fórum de discussão internacional para políticas monetaristas que, no começo dos anos 70, alardeou o relatório The Crisis of Democracy (“A Crise da Democracia”), do cientista político Samuel Huntington, que, em linhas gerais, apontava a conquista de direitos e o movimento dos chamados “partidos irresponsáveis” (os de esquerda) como uma ameaça aos governos e à economia. "Vale lembrar que o relatório surgia logo após 1968, quando os estudantes foram às ruas. Logo após movimentos como os Panteras Negras, a explosão dos grupos LBGT, a efervescência de greves e ocupações. O Estado não sabia como agir diante disso, a não ser com truculência. O relatório surge como resposta à impossibilidade de garantir os moldes capitalistas na democracia do pós-guerra, com seu estado de bem-estar social. Havia [por parte do poder dominante] um saudosismo dos Estados Unidos dos anos 50, com seu silêncio."
“’Governabilidade’ para a ser, desde então, uma palavra-chave [nos discursos da direita]. Que, na verdade, define a capacidade de o governo controlar, inibir, oprimir. É impressionante como, desde há muito tempo, os motivos da crise econômica são atribuídos aos mesmos fatores: o excesso de direitos, o aumento da expectativa de vida. Vale lembrar que, há pouco, representantes do FMI disseram que a culpa da crise é do excesso de direitos. Os velhos vivem muito e requerem muitos serviços de saúde, não é?”, pontua a historiadora, irônica. Ela cita o lema “Não fale em crise, trabalhe”, parafraseado pelo presidente interino Michel Temer, como exemplo “desse mecanismo perverso de colocar a culpa no trabalhador”.
E será que vivemos, de fato, um golpe? “Me parece que, por enquanto, é um golpe de governo — mas que pode se tornar um golpe de regime. Se vai virar uma ditadura? Talvez, mas certamente não como a conhecemos. A História nunca se repete de forma idêntica. O que temos é a sobrevivência de mecanismos da ditadura. Mecanismos de exceção que permaneceram [antes mesmo do golpe], como os que foram usados para inibir as manifestações de 2013.”
‘Não buscar compreender 2013 é um estelionato’
Lígia Bahia, pesquisadora da UFRJ, e José Wellington Gomes, pesquisador da Ensp, foram convidados a debater “o papel do sanitarista no contexto político atual”. Lígia, porém, sugeriu uma mudança de pauta: “Estamos reunidos para falar sobre saúde, mas faço um apelo: que não seja só isso. Porque precisamos falar sobre a Previdência Social. Isso é, agora, o mais urgente de tudo”.
“A Previdência Social no Brasil é estatal e é isso que eles [o governo interino] querem capitalizar. Querem privatizar no atacado, não no varejo — é isso que está em pauta. Vão transformar política social em política fiscal. Todos sabemos que o perfil demográfico da população está mudando. Mas somos contra a desvinculação entre benefícios previdenciários e salário mínimo”, descreveu a pesquisadora.
Outra alerta foi quanto à necessidade de lançar olhares mais sensíveis aos diferentes grupos mobilizados pelo país. “O povo que foi para as ruas em 2013 não é o mesmo que tem ido em 2016 — e entender isso é crucial. Os cartazes com ‘enfia os 20 centavos no SUS’ e ‘quero hospitais padrão Fifa’ foram vistos como indícios de direitismo por certos setores da esquerda. Mas o que havia ali era uma espécie de civismo, e não tentar entender isso é um estelionato. Esse é, aliás, o pior dos mundos: se não entendermos que somos [a esquerda], também, responsáveis pela crise.”
Sanitarista: alguém que ausculta o sofrimento
 Coube a Wellington Gomes retomar o tema central da mesa, traçando um retrospecto de como a figura do sanitarista tem sido construída ao longo do tempo. Começou prestando homenagem a sanitaristas pioneiros da Fiocruz, como Arthur Neiva e Belisário Penna. Profissionais que eram, antes de tudo, desbravadores: num tempo em que o Brasil só era conhecido por seu litoral, excursionavam pelos sertões, lançando luz a um país marcado pela pobreza e pela desnutrição. Foi Arthur Neiva que, ao voltar de uma de suas excursões, alertou o amigo Monteiro Lobato: Jeca Tatu, seu personagem, não tinha aversão ao trabalho por preguiça, como sugeriam as histórias do escritor. Em vez disso, era depauperado pelas doenças da miséria.
Coube a Wellington Gomes retomar o tema central da mesa, traçando um retrospecto de como a figura do sanitarista tem sido construída ao longo do tempo. Começou prestando homenagem a sanitaristas pioneiros da Fiocruz, como Arthur Neiva e Belisário Penna. Profissionais que eram, antes de tudo, desbravadores: num tempo em que o Brasil só era conhecido por seu litoral, excursionavam pelos sertões, lançando luz a um país marcado pela pobreza e pela desnutrição. Foi Arthur Neiva que, ao voltar de uma de suas excursões, alertou o amigo Monteiro Lobato: Jeca Tatu, seu personagem, não tinha aversão ao trabalho por preguiça, como sugeriam as histórias do escritor. Em vez disso, era depauperado pelas doenças da miséria.
A história narrada por Wellington mostra a revolução cultural da saúde, no bojo do trabalho dos sanitaristas. Ao longo do tempo, porém, o papel do sanitarista foi mudando. A identidade da profissão foi exaustivamente discutida nos anos 70 e 80, conta. “Entendíamos que o sanitarista era alguém que conhecia a saúde pública. Sabia enxergar e desbravar o corpo e o campo. Era o profissional que seguia as ideias de Hipócrates e, ao chegar a uma nova cidade, sabia que, antes de começar a clinicar, precisaria apreender a direção dos ventos, verificar a umidade da terra e o sentido em que correm as águas. Mais do que isso: precisaria auscultar o sofrimento que vem dali. Inclinar-se sobre os problemas da terra.”
Após a reforma sanitária e a instauração do SUS, porém, esse papel mudou. O sanitarista passou a não atuar apenas no campo, mas também nos gabinetes, imbuído das funções da gestão pública. “Além de saber a direção dos ventos e das águas, agora ele tem que dominar os sistemas de informação”.
Continua sendo fundamental, na formação de um sanitarista, passar pelo cuidado, pela atenção e pelo front, reforça o pesquisador. Há, porém, problemas a resolver ante a figura do sanitarista, hoje. Problemas que dizem muito sobre os impasses do próprio SUS. “Temos, hoje, uma situação esquizofrênica. Há um ideário sobre o SUS que não corresponde ao SUS real. Porque o SUS nasceu como uma política socialista. E como viabilizar isso, um projeto socialista, num país tão conservador, com uma das elites mais retrógradas do planeta, com o sentimento escravagista ainda à flor da pele?”
No Portal Fiocruz
Mais Notícias
- Conselho Deliberativo da Fiocruz publica carta em defesa do SUS
- Direito à comunicação e informação para consolidar a democracia e o direito à saúde
- Ditadura: regime instituído pelo golpe, há 50 anos, deixou marcas no campo da ciência
- Páginas tristes da história
- Número de pesquisadores caiu à metade, em 1974
- Fumacinha, feijoada e vatapá subversivos
Mais em outros sítios da Fiocruz
Mais na web