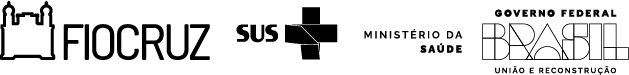O Brasil é um país desenvolvido? Essa pergunta pode ser respondida de diversas formas, se levarmos em conta os diferentes critérios que podem ser utilizados. Se o critério for econômico, até que não estamos mal: com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 4,4 trilhões em 2012, o Brasil é a 7ª economia do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França e Reino Unido. Critérios diferentes levam a resultados diversos, porém: de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), por exemplo, o Brasil ocupa hoje a 85ª entre 187 países avaliados, atrás de países vizinhos como o Peru, Uruguai e Chile; já de acordo com o Índice de Gini, que mede a desigualdade de renda nos países, o Brasil é mais desigual do que Camarões, Mongólia e Bangladesh.
Reportagem da Revista Poli destaca: há uma disputa em torno do que é desenvolvimento, e a educação não está alheia a essa discussão. Quantas vezes você não ouviu que o Brasil não se desenvolve e é desigual porque não investe em educação? Mas qual é o desenvolvimento que se pretende e qual é a educação necessária para atingi-lo? Além disso, qual o papel do Estado nesse processo? A discussão não passou despercebida no documento de referência da 2ª Conferência Nacional de Educação (Conae), que acontece no ano que vem. Segundo o documento, o contexto neoliberal no Brasil acarretou mudanças na forma de atuação do Estado e nas políticas educacionais, “que passaram a se orientar, cada vez mais, pela lógica do mercado e da competição. Esse modo de regulação se contrapôs ao ideário de constituição de um estado democrático de direito, no qual o trabalho, a educação, a cultura, a ciência e a tecnologia constituiriam fatores de desenvolvimento econômico e social, inclusão, melhoria da qualidade de vida, desenvolvimento sustentável, requisitos para a superação dos mecanismos que, historicamente, mantêm as desigualdades”. A partir dos anos 2000, continua o documento, “foi-se evidenciando, pouco a pouco, a importância do Estado e dos governos no crescimento da renda, na redução das desigualdades, na garantia de direitos sociais e humanos e na formulação e implantação de políticas públicas que possam contribuir para mudanças sociais mais efetivas tendo em vista a formação para o exercício da cidadania e a ampliação dos mecanismos de equalização das oportunidades de educação, trabalho, saúde e lazer”.
Para os pesquisadores ouvidos pela Poli, o Estado brasileiro, de fato, tem sido mais atuante na condução das políticas de desenvolvimento e de educação desde a primeira década dos anos 2000, como aponta Gaudêncio Frigotto, professor da pós-graduação em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj): “De meados da década de 1980 até 2000, a palavra desenvolvimento saiu do vocabulário no Brasil. A ideia de desenvolvimento foi substituída pela ideia de mercado. O Brasil tem o mérito, especialmente a partir do governo Lula, de ter retomado essa ideia do papel do Estado na condução do desenvolvimento”, indica.
A questão, para Frigotto, está no modelo de desenvolvimento adotado. “Desenvolvimento tem que gerar soberania, e o horizonte de desenvolvimento que se tomou no Brasil é muito mais como modernização, abrindo fronteiras para o capital, para os negócios. No fundo, é um modelo de desenvolvimento conservador, insustentável. Como diz o historiador [Eric] Hobsbawn, com quem eu concordo, para gerar soberania é preciso regular o mercado e o capital. Esse é o grande problema”.
O fim da 'lógica do mercado'?
Mas quais as implicações disso para a educação? Será que a “lógica do mercado e da competição”, que orientou as políticas educacionais sob o neoliberalismo, é coisa do passado? Será que hoje nossas políticas educacionais estão direcionadas no sentido da “superação dos mecanismos que, historicamente, mantêm as desigualdades”, como prega o documento de referência da Conae?
Para Roberto Leher, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a resposta é não. Segundo ele, a lógica do mercado ainda é hegemônica no projeto educacional brasileiro. Expressão disso é a influência crescente da iniciativa privada na definição de políticas públicas de educação, que tem como consequência uma ênfase em processos educacionais pautados pelas necessidades do mercado de trabalho. “Há ainda uma concepção ideológica por parte do Estado, operada pelo governo atual e pelos anteriores, de que o setor público não tem vocação para a formação do trabalhador, quem tem que formar é o setor empresarial. Como decorrência disso, tudo que diz respeito à formação profissional e à educação básica tem a voz do empresariado, legitimada pelo governo, que diz que a formação da juventude brasileira não pode prescindir da contribuição dos setores dominantes”, explica. E, para Leher, isso tem consequências práticas. “Se isso é desejado, não será o Estado que vai educar com métodos privados por si só, é necessário que as instituições públicas estejam abertas a essas vozes”.
O professor explica que é possível identificar essas concepções, por exemplo, no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), lançado em 2011. “O Pronatec impulsiona uma estratégia de formação que a meu ver tem duas dimensões: uma é a da socialização do jovem como força de trabalho, para que ele se perceba como um trabalhador assalariado. A segunda diz respeito aos rudimentos básicos para áreas específicas, de acordo com os setores econômicos presentes no território onde o curso é oferecido: no Pará, por exemplo, os cursos têm perfil voltado para a área de mineração, no norte do Rio de Janeiro há cursos na área de petróleo”, avalia, complementando que, com isso, esses setores econômicos adquirem uma grande capacidade de recrutamento de trabalhadores, o que pressiona o salário dos trabalhadores para baixo. Isso também implica a qualidade da formação. “A formação oferecida é instrumental, operacional, para cobrir postos de trabalho pré-determinados, não assegura uma formação científica, cultural, histórica e social ampla aos estudantes”.
Gaudêncio Frigotto, professor da pós-graduação em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), também é crítico deste modelo. “Salvo algumas exceções, todas as nossas políticas de formação profissional voltadas para inserção no mundo do trabalho, desde os anos 1930 até hoje, com o Pronatec, são castelos em cima da areia, porque não têm uma base. Quando se oferece um curso de 200 horas para pessoas sem nível médio ou com nível médio muito ruim, só quem está ganhando dinheiro com isso é o sistema S. Definitivamente essas pessoas não vão estar preparadas para um trabalho complexo”, aponta Frigotto.
Função social da escola pública: disputas
Na educação básica, segundo Vânia Motta, professora da Faculdade de Educação da UFRJ, a influência do empresariado na formulação de políticas públicas também é visível. Como exemplo disso, ela cita o movimento Todos pela Educação (TPE), formado por fundações empresariais ligadas ao grande capital, como a Fundação Itaú Social, Instituto Camargo Correa e Fundação Telefônica, entre outras. Segundo ela, o Ministério da Educação (MEC) tem privilegiado o diálogo com empresários na hora de discutir políticas de educação. “Isso se vê concretamente no Plano de Desenvolvimento da Educação, lançado em 2007, onde há o ‘Compromisso Todos pela Educação’, que tem o mesmo nome e é baseado nas mesmas metas desse movimento empresarial”. E essa influência já se faz sentir, segundo Roberto Leher. “O Todos pela Educação conseguiu difundir na escola pública o que eles chamam de cultura de metas e uma formação baseada em competências individuais que eles definiram como pertinentes para a educação básica: português e matemática, que são as variáveis levadas em conta no Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]. Então a força de trabalho tem que conhecer um pouco de linguagem, um pouco de matemática e aí estaria bom”, aponta, e completa: “O Todos pela Educação está disputando a própria função social da escola pública, em detrimento de perspectivas que defendem a formação integral. É uma formação muito mais adestrada e passível de ser mensurada”. Vânia Motta completa que o movimento Todos pela Educação reforça a presença de concepções pedagógicas baseadas na chamada teoria do capital humano, em que “a classe trabalhadora, além de ser vista como um fator econômico, uma mercadoria que precisa ser atualizada para não perdermos o rumo da história, leva a culpa pela desigualdade. A teoria do capital humano argumenta que o pobre é pobre porque não investiu em seu capital humano. Esse argumento não explica a histórica desigualdade entre classes, entre países, entre regiões”. Para Vânia, isso representa um retrocesso para a educação básica brasileira.
*Reportagem publicada na Revista Poli N° 30, de setembro/outubro de 2013
![]()
![]()
![]() O conteúdo deste portal pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores.
O conteúdo deste portal pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores.